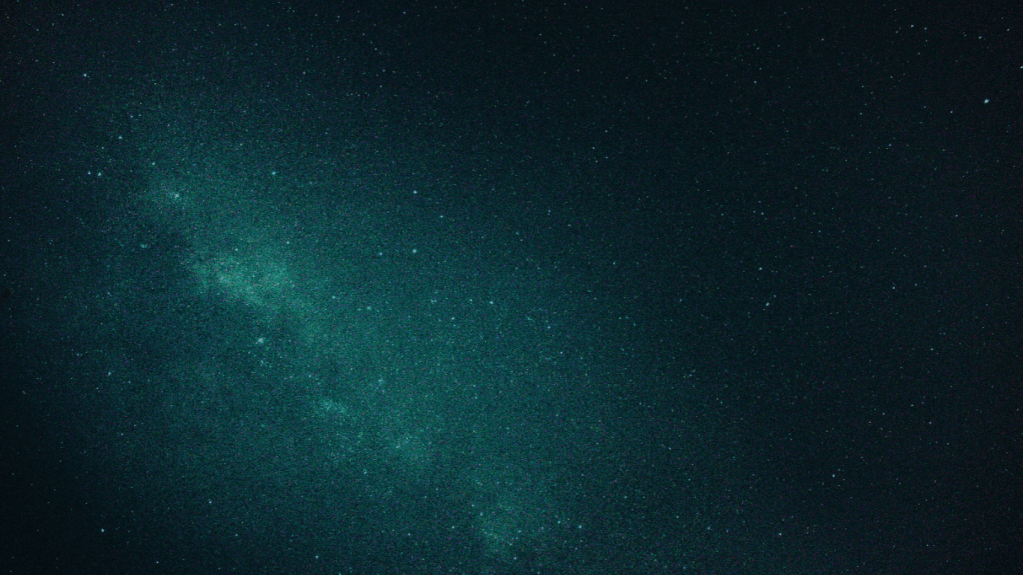
Uma parte de mim está morta. Já vivi o bastante para ter me esfolado no caminho algumas vezes – remendado-me do jeito que deu com o passar do tempo – também já sofri um bocado por amor e enlouqueci outro bocado de ódio. Restabeleci-me cheia de cicatrizes maltrapilhas, mas desta vez é impossível, nenhuma gambiarra dá conta dessa dor. A única parte viva em mim é a que insiste em escrever, o resto foi a óbito.
Parece que faz um século, parece que foi ontem: as memórias são tão vívidas que não preciso sequer fechar os olhos para vê-las. Os passarinhos mais coloridos e cantores habitam o telhado da edícula, voam sobre as copas das árvores (que são muitas), alguns retornam ao ninho e alimentam seus bebês. Pela manhãzinha e ao entardecer eles se agitam mais, parecendo um tipo de carnaval de bem-te-vis e maritacas, um grande evento para uma criança. Há um pomar cheiroso e colorido, com goiabeiras, jabuticabeiras, macieiras, laranjeiras, parreiras e uma única mangueira, que está lá há duas gerações e nos concedeu um tronco tão forte que fizemos um balanço cheio de risadas e vento nos cabelos. Mais à direita temos nossa horta bem cuidada e verdinha, que me faz recordar do nosso hábito de plantarmos juntas e cuidar do jardim, claro, do jeito que uma menina sapeca pode fazer quando está na proteção da avó. O cheiro da terra molhada logo após a chuva se mistura com o aroma do bolo no forno, o café moído e coado. Ainda posso sentir como se fosse agora, tudo com esse frescor natural, acolhedor e infantil daquele quintal de aventuras tão emocionantes.
Helena, a boneca preferida e de pano, ainda existe e está aqui no meu colo agora. Abraço-a tão forte como se assim eu pudesse entrar nela e encontrasse em seu interior um portal mágico de teletransporte para aquele tempo, como se assim eu pudesse mais uma vez me balançar naquela mangueira, como se eu pudesse mais uma vez achar graça nos pássaros, como se eu pudesse escavar a terra para plantar as sementes e achar magnífica a sujeira que nos pintava até as sobrancelhas, como se comer as frutas dos pés pudesse ser ainda gostoso. Espremo tanto Helena nos meus braços, tentando agarrar e prender para sempre seu significado dentro de mim, que seu olho-botão-direito se esbugalha e fica pendurado por um fio de linha rosa. Um fio de linha rosa, seu nervo óptico, costurado ponto a ponto por nós duas naqueles tempos de alegria. Cada pedacinho dela – de dentro e de fora – foi decidido com carinho. Tínhamos a máquina de costura (herança de família), trapos, tecidos de florzinha, tesoura, lápis, papel, tinta, cola quente, lã marrom, vários botões de cores e de tamanhos diferentes, linhas cor de rosa, agulha, criatividade, entusiasmo e o enchimento nós compramos lá no “armarinhos” do centro da cidade.
Lembro-me da urgência para concluir logo nossa obra e dar vida à boneca, ao mesmo tempo havia também uma vontade de adiamento com a intenção de prolongar essa brincadeira mágica, era um tipo inocente de procrastinação, impedindo que o fim se materializasse. Cada decisão era um acontecimento: seu tamanho, seu formato, seus olhos, a cor dos cabelos, e por fim (isso era muito importante) decidimos dar-lhe um estilo próprio de roupinhas, sim, a boneca seria estilosa. Em um papel fizemos os moldes, contornando com lápis. Recomeçamos diversas vezes até que a decisão estivesse tomada. Passamos para o tecido, costuramos à mão e à máquina, conforme a necessidade. Tivemos o cuidado de dar-lhe órgãos vitais de enchimento e o formato de seu corpinho. Agora estava nua, careca e ainda sem rosto. Seus cabelos longos e castanhos tinham saúde e movimento, sua franja era um charme à parte. Fizemos vários vestidinhos, uns mais longos, outros curtos. Todos no tom de rosa. Costurados com elegância e abotoados atrás, bem encaixadinhos. Eu propus fazermos os olhos com tinta preta, mas borrei e eles ficaram, digamos, assustadores. Foi aí que ela sugeriu os botões. Além disso, os botões tornaram-se uma característica marcante da boneca pois viraram bottons em algumas roupinhas, customizando seu visual.
Isabela, Mariana, Nina… tivemos várias ideias para batizar a boneca, Joana, Pat, Tininha… mas a indecisão prevalecia. Parece ter sido o momento mais incerto de todos. E a primeira semana de vida dela foi uma mutação de nomes, vivendo de alcunhas. Foi a novela que passava naquele ano na TV que eliminou a hesitação: acontecia uma cena heróica na qual a protagonista – Helena – atravessava um grande desafio, quase morrendo, e quando todos pensavam que já não havia mais esperanças, ela ressurge como uma fênix e surpreende a todos. Naquele momento nós duas nos encaramos várias vezes e sem dizer palavra, nascia Helena.
Gostaria que nossa Helena concedesse poderes de fênix, e assim pudéssemos renascer das cinzas, reviver nossa família e tudo o que construímos. Mas longe deste mito e dentro de uma tragédia, eu estou mergulhada agora. Com uma potência avassaladora, tudo se perdeu num piscar de olhos. Primeiro chegaram os boatos de que se aproximava – de outro continente – um vírus letal, achei exagerado. Depois, na igreja, diziam ser este o sinal do fim dos tempos, achei delirante. Então, notícias espalhavam-se na tv e na internet e mais ninguém sabia o que era fato e o que era fake, achei que eu estava perdida. Pessoas começaram a ser hospitalizadas, entre elas, alguns conhecidos, inclusive nossa médica de família que não sobreviveu. O vírus era real e havia chegado aqui. Ninguém sabia como lidar, não havia cura nem vacina, a quarentena foi a regra, estabelecimentos fecharam as portas, nos enclausuramos por precaução e por medo.
Com o tempo, nos acostumamos às máscaras, ao álcool, a conviver com a esperança da vacina chegar e da medicina descobrir um tratamento factível. Mas era inverossímil acostumar-se com a quantidade de pessoas infectadas e mortas. O futuro parecia bastante incerto e ficava cada vez mais assustador, mas a realidade ficou mais pavorosa ainda quando esse pesadelo bateu à porta: os primeiros sintomas chegaram de mansinho, depois ela queixou-se de dores pelo corpo e caiu de febre. Nada aliviava e a solução foi o hospital. Uma semana aflitiva sem melhoras e de lá ela saiu morta. Seu pequeno corpo de criança estava frio e sem vida, o oposto do que sempre fora. Eu não poderia mais pegar minha netinha no colo, nem abraçá-la, nem beijá-la. Não poderíamos mais brincar juntas, o balanço da mangueira permaneceria para sempre empurrado apenas pela força do vento, pois nossa pequena transformou-se em estatística, apenas um número entre as tantas centenas de óbitos de crianças que a pandemia roubou a vida.
